
Caro leitor, antes uma notícia do presente,
mas que presente!
“Você sabia que alguns dos melhores queijos do mundo são produzidos no Brasil? Que em setembro de 2021, o Brasil recebeu 57 medalhas no Mondial du Fromage, concurso mundial de queijos e laticínios, também conhecido como “Copa do Mundo dos Queijos”, realizado na França.? E antes, outras mais?
Veja: |
Capítulo III – O passado “iscardado”
Clique aqui para ver o sumário com todos os capítulos disponíveis
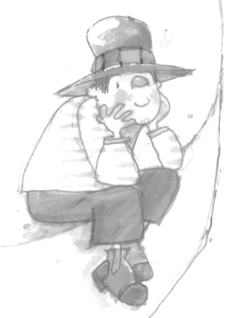
A história é a ciência das ciências.
Seu estudo abrange os mais apreçados interesses da humanidade.
São Roque de Minas, reconhecidamente, é o principal centro produtor e irradiador do famoso queijo de leite cru do oeste mineiro, cantado em verso e prosa, desde pelo menos, o final do século XIX. Em honra ao mérito, na reverência a esta saga, este capítulo destacará percepções de diversas pessoas dessa cidade e da sua vizinha, a pequena Medeiros. Um privilégio ouvi-las, em conversas tão proveitosas.
João Carlos Leite, presidente da Cooperativa de Crédito da cidade, a Saromcredi, além da competência técnica, do dinamismo, do transpirar cidadania por todos os poros, opera milagres na multiplicação do tempo. Transita com desenvoltura em meio aos seus incontáveis afazeres junto à gestão de diversas instituições, desincumbe-se em bom termo e boa hora de diversas ocupações nos seus negócios particulares e na sua atuação profissional, participa das inferências políticas, atende ao rosário de amigos e cuida da família. Sabendo desse meu projeto de compor uma sociologia sobre o queijo, num pulo prontificou-se em acolher o pedido discorrendo sobre algumas poucas perguntas — “coisa rápida, o homem é presidente, em tão ocupada agenda não receberá um desconhecido”. Pois em meio a todas essas tarefas, ainda conseguiu apartar duas manhãs inteiras do ensolarado agosto de 2010.
Enquanto me acompanhava até à sua sala, esquentando a prosa, alertou no bate-pronto: se ousa escrever, antes de qualquer coisa, é preciso conhecer a história da região, os avoengos, da povoação e do queijo, as condições, os meios e o modo previamente existentes, condicionando seu aparecimento. Concordei sem pestanejar. A memória dos povos, e que se encontra em toda parte, nos lugares impensáveis, num singelo monjolo, em uma curva de estrada, deve preceder qualquer descrição sobre espaços e momentos — a vida, enfim. Saramago teria afirmado: se não ligasse o seu trabalho à história, não faria coisa alguma.
Quando nos aboletamos em seu escritório, estávamos bem ajustados quanto ao rumo da conversa. Ao meu lado, minha mulher, primeira mestra em Responsabilidade Social empresarial do país, exímia digitadora de cento e quarenta toques por minutos, incumbiu-se do ofício do registro das narrativas, colocando-se a postos diante do notebook.
Do alto do seu conhecimento acadêmico, somado a uma invejável experiência de vida, no profícuo vórtice da interação entre teoria e prática de todos os dias (manhãs, tardes e noites), Joãozinho Leite contou longa história. Sua apresentação, detalhada a seguir, se justifica na importância dos seus relatos. Misturados com algumas percepções minhas, acabaram ocupando todo este capítulo. Através deles, identifiquei os elementos da cultura engendrada por uma competência específica. Ela nos presenteia com esse maravilhoso queijo e confirma a necessidade da sua preservação como patrimônio. Vejamos.
As raízes profundas das quais brotaria, mais tarde, a produção do queijo talvez sejam encontradas no distante correr do século XVIII. O bicho-homem, segundo seu feitio, segue a mesma regra de qualquer ser vivo com capacidade de locomoção. Se os deuses de um lugar não são propícios, partimos em demanda de novos pastos. Se no Brasil de hoje, de algum modo, a lógica se repete na ocupação de novos espaços em Mato Grosso, Rondônia e Amazonas, há quase trezentos anos, as “novas fronteiras agrícolas” tocavam as barrancas do Rio Grande.
Ouro Preto, a Serra Pelada daqueles idos, fez jorrar sobre a Europa uma cornucópia em barras e lingotes, não tinha visto tanto antes. Na Terra de Santa Cruz, o vil metal irradiou prosperidade por vários lugares, até mesmo o Rio Grande do Sul, fazendo de Minas, segundo Darcy Ribeiro, “o nó que atou o Brasil e fez dele uma coisa só”. Mas, a atividade predatória, sedenta, exauriu as reservas, e o Pico do Itacolomi assistiu o minguar de sua opulência e o esvaziamento de sua população de duzentos mil habitantes. É a regra. A exaustão das reservas provocou desemprego, gerando expressivo excedente de mão de obra. Os aventureiros atraídos por esse tipo de atividade não criam vínculos com os barrancos auríferos. Acabou? “S’imbora”. A diáspora é prática comum dos desenraizados. Ouro não enche barriga. Há registros de gente catando raízes e bichos imundos com as mãos amareladas. Nesse compasso, novos espaços de ocupação pelas muitas sesmarias seriam a tábua de salvação natural de milhares de pessoas sobre cujas cabeças pairava o fantasma da fome.

João Castanho Dias [2], entre outros autores, nos traz uma curiosidade: em 1703, referido ao ouro, moeda corrente em Minas, um queijo poderia custar de 3 a 4 oitavas (12,5 g de ouro), a absurda cifra de 3.700 reais aos preços de hoje. Esse dado é importante. Por ele, podemos bem imaginar quanto essa escassez do produto (como, de sorte, dos alimentos em geral), deve ter incentivado a sua feitura. [3]
O êxodo provocado pelas grupiaras esgotadas encorpou-se, nos ecos das entradas e bandeiras que ainda retumbavam por ali, na atração frutificada pela doação das sesmarias, com os fugidos de dívidas perante a Coroa, com os tropeiros transitando pelos caminhos rumo a Goiás. Circunstâncias tais fomentaram o movimento de interiorização e o consequente aumento da demanda por alimentos na região.
O século XIX.
Vejam a vida em toda a sua complexidade. Em 1808 deu-se um fato socioeconômico de monta: a chegada das cortes reinóis ao Rio de Janeiro. Nas carteiras das salas de aula da instrução primária, aprendemos os impactos sobre a colônia. Abertura dos portos às nações “amigas” (a rigor somente transferiram o monopólio, sai Casa de Bragança entra a coroa Hanover, inglesa), permissão de instalação de manufaturas (começaram a poluir aqui o indesejável por lá, pagando mão de obra mais barata), elevação à categoria de Reino Unido, fortalecimento do Estado, com mais ministros e funcionários, e criação de várias instituições, educacionais, artísticas, recreacionais e financeiras.
Os historiadores não se acertam bem quanto ao tamanho da comitiva real desembarcada no Rio. Segundo uma estimativa modesta, quatro mil pessoas teriam apeado, de súbito, no paço de uma cidade contando apenas umas trinta mil almas. Mas essa sobrecarga populacional deve ser enfestada quanto a demanda de gêneros, bens e serviços. Pelo menos no julgamento de Padre Vieira: são necessários vários peixes pequenos para saciar cada peixe de porte. Então, é como se a cidade, na virada do dia, visse dobrar as bocas a acudir. Por certo que sim. Enquanto a maioria dos moradores era composta de escravos, habituados a costumes salutares (dieta frugalíssima e tome exercício físico), os invasores, ao contrário, eram todos gordinhos, epulários ventripotentes, acostumados a comer e a beber do bom e do melhor, o dia inteiro, no dolce far niente, praticado desde aqueles tempos, ou antes.
Pensando sobre todo aquele pessoal de sangue azul e seus assessores morando, vestindo e comendo do bom e do melhor, uma “trenhera” não disponível por aqui, podemos estimar o quanto de carne, vinho, queijo, cerveja, manteiga e talvez até água os nativos precisaram multiplicar a fim de abastecer aquela nobreza “itinerante”.
E não se restrinja à uma história de heróis. Ativemos a imaginação, no corre-corre das massas, a lufa-lufa de cada dia no entra e sai das casas, no empreendedorismo tupiniquim, na manufatura de quintal, no jeitinho, nos aproveitadores, na improvisação, na criatividade, gente como a gente percebendo oportunidade de amealhar uns vinténs. O alfaiate recebe mais encomendas. O sapateiro não dá conta dos pedidos. O açougueiro passa a levantar mais cedo. Um padeiro de maior tino pode ter mandado vir receitas especiais, visando um nicho privilegiado, com novo nome na porta, escrito em azul, moderno: boulangerie. Alguém lá, atento, “bolou” o primeiro delivery nacional: de leite. E tome o frenesi do vaivém pelas ruas apinhadas de gente, entregadores, carregadores, vendedores ambulantes, todo mundo ocupado, quanto progresso, “a gente miúda: os pajens e negros trombeteiros e gaiteiros, com suas dragonas, alamares, fivelas e botões dourados”, do Autran, da mesma maneira “dourado”. “Vejo escravos arcados ao peso das pedras… carros de bois gemem lamuriantes, transportando material… vejo muita madeira de lei… montes de areia… milhares de adobes. Os alicerces são erguidos vagarosamente. Os negros, peças d’Angola, cansados trabalham sob as ordens de um feitor”, como descrito por Maria Teixeira a sua percepção da vida como ela era, montada em cada jornada.[4] E continua sendo.
Bem ou mal, toda essa gente vai ganhando seu dinheirinho. E consomem mais, no anseio por uma mesa mais sortida, comer queijo e tomar vinho.
D. João VI canalizou recursos incentivando várias iniciativas, certamente da elite da época. O Estado, como sempre, acode a minoria, é da sua natureza. Amém, tal qual no mundo todo, faz tempo. Chomsky alerta, “não pode é, aos ricos, proteção estatal e subsídio, e aos pobres disciplina de mercado”. Privatização dos lucros e socialização dos prejuízos. Aos fortes, mecanismos de defesa, ao povão mais desarmamento. Aos poderosos, proteção institucional, aos fracos, o peso da lei. Dentre as diversas providências, Sua Majestade teria definido uma política de apoio à manufatura de queijos nas Minas Gerais. Não é fácil encontrar provas documentais a respeito, porém, percebe-se a existência dessa força indutora. E ela veio abraçada à ideia de se produzir aqui algo semelhante ao fornecido pela Serra da Estrela ou Ilha dos Açores (Veremos mais detalhes em outro capítulo). Faz sentido. Apresente-se agora na mesa tropical algo do paladar metropolitano.
Se bem assessorado, o apoio deve ter mirado três objetivos com uma só penada: suprir o aumento de demanda no Rio de Janeiro e acudir o excesso de mão de obra, de olho na agropecuária (queijo, leite, carne, manteiga, café, energia, tração animal) como alternativa de solução, no proveito das terras disponíveis, propícias, na região além de São João Del Rey. E mais impostos, é claro.
Jean Baptiste Debret esteve no Brasil entre 1816 e 1831. Segundo ele, a província de Minas Gerais abastecia o Rio de Janeiro de queijo. Saint-Hilaire passou por São João Del Rey aproximadamente na mesma época e descreve a presença da atividade.[5] Desceu rumo a Piumhi, e dali seguiu demandando a região da Capela de São Roque, Araxá e Arraial do Patrocínio, mas não cita ter visto esse produto nessa parte do sertão. Registra é toucinho destinado a São João Del Rey, mas nada diz sobre o queijo, acreditando-se, então, não ter se desenvolvido ainda o suficiente por ali naquele tempo e atrair a atenção. Viu pouco gado. Contavam que os animais se embrenhavam pelas matas, podendo significar coleta irregular do leite, não devia ser diária. Encontrou foi bastante borrachudo, isso sim, além de mandioca, milho, águas medicinais, criação de carneiros e até fabricação de tecidos grosseiros de lã, nas fazendas. Anotou dados sobre a atividade pecuária em toda essa região e comentou que o “comércio de reses era o único ramo de exportação que a região poderia explorar”. Acrescente-se a baixa qualidade zootécnica do plantel, com pequena produtividade, as dificuldades na obtenção de sal, caro, e na caça de animais (tatu, capivara), conseguir o coalho etc.

Pohl, naturalista austríaco, esteve por aqui entre 1818 e 1821 e anotou que pouco se fabricava de queijo. A chegada da fidalguia pode ter fomentado esse pendor, mesmo sendo no rebote. Aquele naturalista registrou a ocorrência de queimada de pastos por toda Minas Gerais, sem estranhar, porque era expediente igualmente utilizado no Velho Mundo.
Esses relatos parecem fechar na ideia segundo a qual, aqui na nossa região, se existia fatura de queijo em 1820, era embrionária, em gestação, engatinhava, acanhada. É o mais provável. Economia incipiente, fraco interesse em intercâmbio, baixa densidade populacional e relevo acidentado dificultando as trocas teriam ensejado apenas a sua fabricação como alternativa de armazenamento do eventual excedente de leite.
Discorrendo agora sobre a parte mais a leste da região, fora da Canastra, segundo o José Pessoa, esse tipo de ocupação tinha o gosto amargo da ressaca.[6] Na falta de mineração, vamos criar gado e plantar, sobrevivência com um pé na miséria, casas de pau a pique, chão batido, barbeiros, bócio, analfabetismo, impaludismo, bócio (outra vez), desnutrição, nasciam vinte filhos morria mais da metade, mais bócio. Religião? Um tanto afastada, somente em festas ocasionais. A realidade da vida os obrigava a trocar “o idealismo aristotélico pelo materialismo histórico”. Nas relações de trabalho e de barganha, na ausência do dinheiro sonante, prevaleciam a corveia e o escambo. Nem o Leviatã, na sua sanha em extorquir, se animava — seria empreitada inútil. Ao contrário de Vila Rica, aqui a oeste do Indaiá a presença do Estado e a formação de classe média urbana ainda teria que aguardar um bom tempo até alcançar condições que fizessem acontecer.

Saint-Hilaire parou em três pontos nos entornos do Baú: na Serrinha, em São Roque e em Vargem Bonita. Depois seguiu rumo a Araxá. Contando somente com a sumária descrição do viajante, não se consegue localizar precisamente esses locais. Ainda existe a capela em homenagem a São Roque. Quem sabe por ali o cientista se hospedou? Na Serrinha, assentava-se a família Simões Cruvinel, na primeira metade do século XIX. Dificultoso obter maiores informações sobre a vida, os acontecidos nesse período. Seria necessário esmiuçar, sem muita esperança, pelos poucos arquivos disponíveis. Talvez em Lisboa sejam alcançados melhores resultados. Por enquanto, conta-se somente com poucos relatos de antigos moradores. Grupos familiares foram se mudando demandando as bandas da nascente do São Francisco, encorpando a atividade econômica na pecuária de corte. Vacas, bois e bezerros, garrote gordo nos serviços mais requisitados dos jantares palacianos.
Paracatu do Príncipe era centro mais avançado em 1818 e mercado que poderia pretextar a fabricação de queijo, conforme relata Johann Emanuel Pohl na sua passagem por aquelas lonjuras. Mas lá na região centro-sul do Estado, em 1820, os habitantes consolidaram sua posição de importante centro comercial. Outros viajantes ilustres registraram a sua riqueza, seu progresso e sua beleza, na diversidade da produção econômica e nos equipamentos urbanos. O queijo, combinando aroma e sabor suaves e picantes, era o principal produto de exportação. Em chacota alusiva, trocavam o nome da cidade: São João dos Queijos. No Serro, documentos atestam sua presença pelo menos desde 1772. Nesse tempo, uma ordem mandava furar e averiguar se não estavam servindo como instrumento de tráfico de ouro [7]. Ora, então, além do “Santo do Pau Oco”, transitava o “Queijo de Massa Oca”, ambos avoengos de certa peça íntima do vestuário masculino, tão em voga hoje em dia.
Em 1845, escritos deixados pelo pesquisador francês Saint-Adolphe indicam ocupação dos derivados do leite na região de São Roque, exportando rumo a cidades vizinhas e Rio de Janeiro. E durante a segunda metade do século XIX, então sim, o aumento da população e a melhoria das estradas explicavam o crescimento da produção. O queijo começou a se fazer mais presente, impondo aos poucos sua majestade.
João Leite narra mais. Seus ascendentes, após ocupação junto ao Rio das Mortes (ainda existem descendentes por lá), chegaram até Piumhi e Capitólio. Um galho da árvore, brotado em 1840, aos dezoito anos teria amargado o desgosto de malsucedido pleito da mão de uma prima. Foi preterido pela promessa em favor de outro parente — os romancistas regionais poderiam aproveitar esse mote e vestir com linda roupagem essa história do queijo em São Roque. Desiludido, ainda remoendo vãs esperanças, apronta sua montaria e se autoexila na região de Capitólio onde moravam familiares. Por ali, acompanhava um parente que comprava gado nas fazendas dos flancos da serra. Vagando por esses novos caminhos, perdido nos devaneios dos desenganos, acaba indo ao encontro de seu destino pela notícia que lhe chega sobre uma moça casadoira, bonita e enricada, da família Bento Cruvinel.
Esse relato encontra alinhamentos com Saint-Hilaire descrevendo sobre um membro dessa família por aqui, talvez, na única fazenda existente. De uma tia, Dona Manuela, João ouviu contar sobre um pioneiro, de nome Antonio Simões Cruvinel, único produtor de gado da região, senhor de escravo. Há descendentes vivendo hoje por ali.
As manchas arbóreas, manifestações de transição da Mata Atlântica, nos capões dos talvegues, nos tufos ciliares junto aos cursos d’água eram propícias à aplicação do sistema chamado de coivara, derrubada de árvores e o uso do fogo completava a limpeza do terreno, ao mesmo tempo conseguindo o desejável e indispensável aumento de concentração de materiais orgânicos. Seguia-se a plantação de gêneros alimentícios, durante dois ou quatro anos, conforme a fertilidade do solo. Na medida do enfraquecimento de nutrientes, plantava-se capim-gordura, importado da África, convertendo-a em cultura de pastagem. Apesar da perda do vigor, a terra era melhor, confrontada ao campo nativo. E com forro de melhor espécie garantia mais produção de leite por teta e durante um período maior do ano. Ampliou-se o tempo de cria, mais força na maior duração da safra do leite e, em decorrência, engordando o calendário anual da produção. O gado era da estirpe caracu, mistura genética de raças europeias, tão bem adaptada às condições brasileiras ao longo de quase três séculos. Um processo paulatino, de lentas experiências.
A mesma tia Manuela, confirmava a história, acrescentando. Muitos da região teriam aprendido a fazer queijo com os Leites. As queimadas e o uso do sal aumentavam a produção. Foram aprendendo coisas, mamar em excesso provocava diarreia nos bezerros e passaram a utilizar parte na fatura do queijo. Na família Simões Cruvinel, a produção restringia-se ao consumo próprio, não era comercializada. Era elaborado com escrupuloso esmero, tudo “iscardado” em água quente, passado nas folhas de bananeira, com carinho, a bancada asseada, ambiente higienizado. As peças nasciam no tempo das águas e eram guardadas até a entressafra. Significa que a produção, embora pequena, era estocada por meses. Referências relevantes. Configuravam-se os primórdios da produção bem cuidada, seguida de processo de maturação no armazenamento de longo período. Possivelmente, a adesão a esses preceitos criou mais tarde a fama do “Canastra”.
O estoque deve ter aberto novos espaços na lida culinária. O soro, subproduto, era da criação de porcos, dando início aos proveitos de mais possibilidades da agropecuária: toucinho rumo São João e dali ao Rio de Janeiro, e energia, da banha abastecendo as lamparinas.
Tudo isso faz sentido, guarda coerência. As narrativas do nosso prestativo historiador traduzem bem como deve ter ocorrido essa aurora. E a vida seguiu adiante, mudando, a passo lento. Instauradas essas novas condições, pouco a pouco entram em cena novos atores: os mascates. Percorriam a região, seguindo as pegadas de Saint-Hilaire. “Seu” Salim, labuta incansável, difícil, passava pelas fazendas e primeiros arraiais, levando esse nome genérico do imigrante, entre tantos dessa boa gente da saga beduína aportada no Brasil. Barganhava trecos. Vamos montar ficção, não seja atrevimento tentar romancear a história.
Vai saber. Talvez na matula da viagem de volta o mascate levasse queijo. E no “conversa vai, conversa vem” dos escambos devem ter provado lá na Pauliceia, e adoraram. -“Seu” Salim, traz mais… tão gostoso… –“Seu” Salim, me dá cá uns três queijos, vou tentar “botaire” na minha venda… E no sertão: – Seu” Salim, quando vier, quero um “surtido de pano, mode fazê vestido pras menina-moça… e aquele pó de arroz… tão cheiroso … – Seu” Salim, a Mariazinha… de graça, eu mais ela… queria um “Parfum de La Nation.
E o “Seu” Salim, trazia e levava, buscava e entregava. E pensava… “Dona Tiburcinha, esposa do coronel Durvalino, encomendou deshabillé francês, coisa chique, e chapéus. Na roda dos mexericos, Dona Prisciliana deve estar sabendo, não vai engolir desfeita e, certamente, há de querer, e comprará. E iam óculos, sabonetes, pentes, luvas e os disputados específicos, miraculosos, matavam piolhos, traziam de volta a pessoa amada, recompunham vigor ao septuagenário e até curavam o mal de fígado (estava na moda). Tudo na base da confiança, naqueles tempos, quando o comércio envolvia nomes a zelar. Os “reclames” nas revistas e os almanaques traziam o nome e abaixo a foto do proprietário, mostravam a cara. A responsabilidade, familiar, era gravada na razão social:
“Caixeta, Filhos, Sobrinho, e um menino qui nóis cria”
Um desses viajantes era o Sr. Habib, Turco por alcunha (algumas vezes com feição de bullying, em resquício distorcido da antiga luta em cristãos e muçulmanos), como eram chamados sírios ou libaneses por aqui aportados. A casa da família na cidade foi demolida recentemente. Um filho dele, o Sr. Tufy, deitava muitas histórias:
“Era grande a aceitação do queijo, saboroso, e sua venda imediata, em várias cidades, não somente em Sacramento. Toda a produção de queijos dos fazendeiros era vendida para meu pai e meu tio Jorge, que os estocavam em seus depósitos, até completar uma carga de dois carros de bois. Quando isto acontecia, o fundo do carro era forrado e os queijos eram separados e protegidos por palhas de milho, fileira por fileira, camada por camada, até onde o sabiam os experientes trabalhadores, entendidos. Cheios os dois carros, toda a carga era protegida por um toldo de couro, tudo bem acomodado. A etapa seguinte cuidava da formação das oito ou dez juntas de bois compondo o grupo que transportaria a preciosa carga. Os mais fortes formavam a junta do cabeçalho e a do pé do cabeçalho. Eles eram dóceis e bem adestrados. Os que compunham a junta da guia e do pé da guia eram mais mansos ainda. Carvão, graxa e querosene eram colocados no encaixe do eixo com o cocão garantindo um bom deslizamento e fazer o carro cantar. Depois que as provisões de alimentos, água, utensílios de cozinha, remédios de emergência e outras coisas mais estavam preparados e acomodados no carro, com os bois cangados e em disposição, podia ter início a longa jornada. A cada carro, quatro ou cinco carreiros, experientes. Com o sinal da cruz pediam a proteção divina e iniciavam a longa e difícil viagem.
Levantando a vara, o carreiro da frente deu o sinal, os outros seguiam o gesto. As juntas de bois se enfileiram e simultaneamente ao movimento do carro o seu canto choroso se projetava no ar. Lentamente, a caravana vencia as distâncias pelas estradas malconservadas. O canto choroso acalmava os animais, diziam. As etapas, por dia, não podiam ser longas o que levaria os bois à exaustão. Havia as paradas nos riachos para que homens e animais pudessem beber água. A caminhada do primeiro dia terminou no meio da tarde, junto a um riacho. Chegou a hora do descanso dos animais e daquela gente. As cangas foram retiradas e os bois soltos pastavam e descansavam. Após um bom banho no riacho, os carreiros improvisaram um fogão de pedras e prepararam a sua refeição: arroz, carne seca, linguiça e toucinho foram para as panelas. Como complemento, rapadura e, obviamente, queijo. Bem alimentados com aquela comida tão gostosa, com os bois por perto e calmos, toscas barracas foram montadas. Um revezamento de um carreiro de guarda era necessário por causa de histórias de roubos e assaltos a essas caravanas. De manhã, depois de todos os preparativos, juntar os bois, cangá-los, e com os carreiros bem alimentados, começava a segunda etapa da viagem.
Os donos da mercadoria não seguiam junto. Três ou quatro dias depois da partida dos carros, meu pai e meu tio Jorge, e mais dois empregados de confiança, a cavalo, começavam a lenta e longa cavalgada ao encontro dos carros que seguiam bem adiante. Uma vez no alto do Chapadão da Zagaia, as estradas não tinham fortes subidas e a viagem se tornava mais fácil e exigia menos esforço dos animais, na extensa região plana.
Na quarta etapa, os donos e seus dois empregados encontravam a caravana, com os carros cantando, chapadão afora. O agrupamento de todos deu mais confiança, segurança e alento a toda a comitiva.
De etapa em etapa, de caminhada em caminhada, vagarosa e pacientemente, chegaram a Sacramento, terminando a longa viagem de ida, bem transcorrida, quando todos, em agradecimento a Deus, fizeram o sinal da cruz.
A aceitação e a procura pelos queijos foram grandes e bons negócios fizeram os seus donos, tornando-os felizes com o êxito da venda e o cumprimento de parte da missão. Meu pai e meu tio foram fazer as compras das mercadorias para as suas lojas lá da roça. O sangue árabe certamente se fez presente nas negociações e nas pechinchas. Muita coisa foi comprada, principalmente aquelas que o povo tanto precisava: querosene, sal, os remédios mais urgentes, ferragens, utensílios de cozinha, tecidos mais usados, fumo de rolo goiano, pinga, vinho, conhaque, linhas, botões, agulhas e tantas e tantas miudezas… e até brinquedos.
Os carros ficaram completamente lotados e a viagem de volta começou, com todos repetindo o sinal da cruz, pedindo proteção divina. A caravana se deslocava vagarosamente no referido chapadão, em meio às campinas verdejantes e floridas. O tempo estava lindo e ensejava tranquilidade e sucesso. No alto do chapadão as noites são frias, mas o agasalho não faltou aos carreiros e as capas “Ideal” aos cavaleiros. Nas paradas de pernoite e o descanso, à noite, à volta da fogueira para se aquecerem, uma lua cheia e milhões de estrelas cintilantes serviam de teto para acalmar aqueles corpos cansados. Depois dormiam sob as toscas barracas, sempre protegidos pela guarda de um carreiro.
A viagem de volta sempre parece mais rápida e sua extensão mais curta, talvez porque a gente está se aproximando do lar e das pessoas amadas. A realização da boa venda e das boas compras iria levar satisfação àqueles que ficaram e aguardavam ansiosos o regresso de seus entes queridos.”
Narrativa tão bonita, rica em detalhes, nos coloca junto ao grupo, nas curvas e subidas de tão cansativa ocupação, em cada arranchada sob o céu povoado de astros, uma aventura despojada, singela, protagonizada por gente pura, simples. Retrata com fidelidade a vida dura deste ofício naqueles tempos. Uma justa homenagem a esses homens reais, da história real, como ela é, sem heróis. Sigamos em frente.

Quando o Sr. Habib por aqui viveu existiam mascates, com igual oferta de panos, sapatos e medicamentos, mas valendo-se de nova rota em direção à São Paulo, passando por Casa Branca, no final do século XIX.
Nesse quadrante, um movimento importante reforçou a interiorização e a demanda por alimentos: o boom da cultura cafeeira, demandando reforço de mão de obra, atraindo levas e mais levas de novos coadjuvantes, galgando os mesmos obstáculos, enfrentando muita precariedade de condições de vida, inclusive quanto às estradas. Imigrantes de várias partes do mundo acorreram, principalmente italianos.
E toda essa gente chegando precisava comer. Na outra mão, somas do dinheiro gerado pela riqueza do café incentivavam investimentos. A agropecuária é tentação empresarial recorrente, o bem-sucedido capitão de empresas nela se aventura. Nesse andamento, aos poucos a fama do queijo foi-se consolidando e, naturalmente, puxando a demanda. O dinheiro do café, da mesma maneira, financiou nossa industrialização em vários setores, inclusive laticínios, adotando técnicas modernas.
O crescimento do negócio começou a engrenar especialização, e vão surgindo os primeiros mercadores dedicados exclusivamente ao queijo, transportando cada vez maiores cargas nos lombos de burros e carros de bois. Esse novo ator, o “queijeiro” será visto no próximo capítulo.
Pois bem, eis pois, este seria o modelo bem mais plausível representativo do aparecimento e do desenvolvimento do famoso Canastra, desde a largada final do século XVIII até o início do século XX. No resumo: aumento populacional, exaustão das minas, desemprego, D. João VI no Brasil, “as armas e os barões assinalados”, demandando comida, interesse no sabor do queijo português (Açores e Serra da Estrela). A busca por novas fronteiras, a ocupação paulatina do lugar, as queimadas, [8] do chão de cinzas brota a nova cobertura logo após a primeira chuva, vaca boa, produção cuidadosa do queijo, iscardado. Mascates iniciando a comercialização, aceitação crescente pela fama. Maturação por seis meses e degustação durante a seca. Boom do café, mais imigrantes, mais gente, mais comida. Queijeiros consolidando tanto a demanda quanto a produção e a distribuição — um puxando o outro.
No final do século XIX, Minas Gerais contava com três centros produtores de queijo: Serro, Vertentes (São João Del Rey) e, consolidando posição, Canastra (São Roque de Minas).
Trata-se de uma pincelada rápida, uma simplificação, mas dentro dos limites do sertão talvez seja representativa. O cabresto e as rédeas da dependência do Brasil, passados das mãos de Portugal para a Inglaterra, obrigaram a abertura dos portos e assumir de vez o liberalismo (eufemismo, “baixar mais as calças”), compondo uma determinação poderosa, um gigante abraçando toda a nossa existência. Continuamos impedidos de adquirir e avançar em conhecimento tecnológico, de produzir aqui todo o necessário e, mais ainda, fomos obstados na capacidade de montar os nossos projetos e decidir qual o nosso destino. De tal maneira limitados, manietados, nosso crescimento econômico se deu bem aquém, das riquezas e do nosso trabalho, daquilo que poderia e deveria ser. E do que conseguimos produzir, boa parte não fica aqui. O queijo, incluído nessa lógica adversa, não foi valorizado na época. Tivesse sido prestigiado, caído na graça do gosto estrangeiro, vendido por preço melhor, garantido no nome, à feição metropolitana, nosso artesão, o pequeno pecuarista, teria progredido e conseguido montar conforto e sossego, seu e da sua família e hoje veríamos as “casas” famosas, de grife, seculares, um Château Cruvinel ou um Veuve Faria — com acentuação tônica no “a” final —, estocando peças de alto valor.
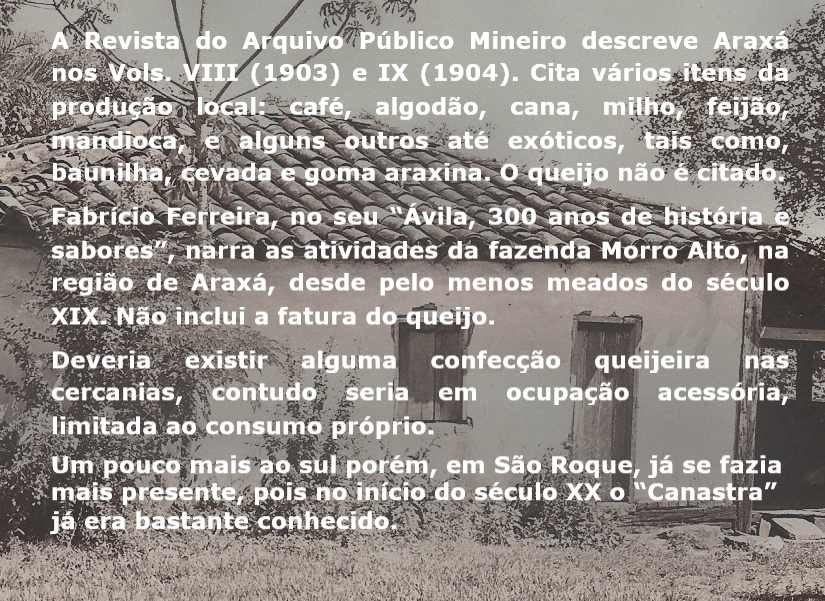
Clique aqui para ver o sumário com todos os capítulos disponíveis
-
Bico de Pena de Annibal de Blasiis, retirado do livro Sertão da Farinha Podre, de Ernesto Rosa Neto. ↑
-
DIAS, João C. Uma longa e deliciosa viagem. São Paulo: Barleus, 2010. ↑
-
Decorridos quase cem anos (mais registros o informam), o preço era de 1 tostão (5 vinténs, ou seja, 100 réis da época), aproximadamente só metade de um grama de ouro, portanto, 25 reais atuais. Como se vê, o ouro escasseou e o queijo deve ter aumentado a sua produção. De lá para cá o valor tem melhorado. Em 2010 pagava-se 20 reais por uma peça maturada, “do bom” (corrigindo pelo IPCA, seriam 45 reais no valor de 2022). Atualmente atinge 80 reais. Cerca de um décimo em relação aos tempos de antanho, de falta do produto, mas, graças à sua excelência, em patamar de comparativa valorização. ↑
-
TEIXEIRA, Maria Santos. A cantiga do carro. Uberaba: Vitória, 1985. ↑
-
SAINT-HILAIRE, Auguste de. Viagem às nascentes do Rio São Francisco. Belo Horizonte: Itatiaia, 2004. ↑
-
PESSOA, José. Cruzes na estrada: outro capítulo na história de São Gotardo. São Gotardo: J. Pessoa, 2002. ↑
-
Ordem do Conde de Valadares, de 1772. Exige que os Registros de Passagens (postos de fiscalização) da região do Serro Frio façam gestão de “furarem os queijos que passarem (…) a fim de evitar o contrabando de ouro e de diamantes”, ↑
-
A vida em si mesmo causa impactos ambientais, igualmente as queimadas. Poluir o ambiente, matar plantas e animais, incinerar ovos, secar nascentes, somar forças ao aquecimento global e colocar em risco, pessoas, criação e moradias são os principais efeitos danosos, a maioria de natureza temporária e intensidade pequena ou média. Favorecer a germinação de sementes, animar o rebrote da cobertura e limpar e compor o solo com sais minerais são contados como benéficos, igualmente, temporários e de pequena intensidade. Obedecendo a manejo controlado, sob supervisão de órgão competente, as parcelas negativas podem ser minimizadas. Curiosidade: a ema, dizem, vigilante junto ao ninho, ao ver aproximar um desses perigos inflamados, corre até à água mais próxima, empapa suas penas e asperge em toda a volta do ninho onde estão os ovos, salvando-os. ↑